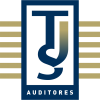https://valor.globo.com/opiniao/coluna – 20/01/2026.
Por Jefferson Alvares (*)
A solução ideal seria um fundo de resolução público, dotado de legitimidade democrática para atuar em articulação com o BC e custeado por contribuições dos bancos, como já ocorre.
 Foto: Zane Lee/Unsplash
Foto: Zane Lee/Unsplash
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ocupa posição paradoxal no sistema financeiro nacional. Constituído como associação de direito privado, exerce funções inequivocamente públicas: contribuir para a manutenção da estabilidade financeira e prevenir crises bancárias sistêmicas. Esse descompasso entre natureza privada e finalidade pública possui consequências que o episódio do Banco Master evidenciou com clareza desconfortável.
O FGC pode fornecer recursos para reestruturar as operações de bancos em dificuldades, evitando sua liquidação. Conhecido como open-bank assistance, o instrumento notabilizou-se na crise das associações de poupança e empréstimo (savings and loans), nos anos 1980, quando seu uso indiscriminado levou à insolvência do fundo garantidor do setor. Desde então, a lei americana impõe requisitos rigorosos: o custo do socorro deve ser menor do que o das medidas de resolução disponíveis, exceto no caso de risco sistêmico, e o banco deve ter administradores competentes, observadores das leis e regulamentos, cumpridores das diretrizes de supervisão e sem histórico de práticas abusivas, especulativas ou irregulares.
Após a crise financeira global, o Brasil importou o instrumento, mas sem as salvaguardas. Desde o caso Panamericano, o FGC opera sem as devidas condicionalidades. Pior: as exigências razoáveis dependeriam de dados e poderes de supervisão que o FGC não possui. Avaliar o custo das opções de resolução, a existência de risco sistêmico e a qualidade da gestão bancária são atribuições típicas do Banco Central. Sem mandato legal e sem prestar contas à sociedade, os bancos que controlam o FGC não têm legitimidade democrática para tomar essas decisões. Além disso, esses mesmos bancos são os potenciais beneficiários do fundo, o que embute um conflito de interesses estrutural na governança das decisões de assistência.
O Banco Master expôs o custo do modelo atual. A assistência financeira, que deveria ser a opção menos onerosa, aparentemente subestimou o risco de quebra. O resultado é que o FGC pagará duas vezes: os R$ 4 bilhões para manter o banco em operação e os R$ 41 bilhões estimados para ressarcir os credores. Terá de aguardar anos para recuperar parte desses recursos junto à massa liquidanda, suportando risco de liquidez significativo. Os recursos do FGC destinam-se a proteger a coletividade de depositantes do sistema financeiro. Seu emprego não pode ocorrer segundo critérios privados e sem a prestação de contas à sociedade.
Os padrões globais do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) vão além da prática americana e desaconselham o suporte de solvência a bancos em funcionamento. Qualquer aporte de recursos pressupõe a adoção de medidas de resolução, com a imposição de perdas a acionistas e credores sem garantia e a responsabilização de controladores e administradores. Esta é a lógica da recapitalização interna (bail-in): quem lucrou com os riscos deve absorver os prejuízos antes da mobilização de recursos coletivos. Sem isso, socializam-se os prejuízos e privatizam-se os ganhos, criando-se incentivos perversos para a assunção de riscos. Fala-se hoje em financiamento de resolução, e não mais em assistência financeira.
Na prática global, o financiamento de resolução está a cargo de entidades públicas ou de governança público-privada. No Brasil, quem toma as decisões são os bancos, que controlam o FGC. A solução ideal seria transferir essa função para um fundo de resolução público, dotado de legitimidade democrática para atuar em articulação com o Banco Central e custeado por contribuições dos bancos, como já ocorre. O FGC retornaria à função exclusiva de pay-box, reembolsando depósitos em caso de liquidação. Ponto crucial: a reforma eliminaria a possibilidade de assistência financeira a bancos em funcionamento.
A mudança teria de ser feita por lei. Seria a oportunidade de suprir uma lacuna de três décadas. Desde a sua criação, em 1995, o FGC atua sem um regime legal específico. As resoluções que o disciplinam têm por base o poder do Conselho Monetário Nacional de regular o funcionamento dos bancos, e não o regime de garantia de depósitos. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determinou que a prevenção da insolvência e outros riscos bancários ficasse a cargo de fundos privados, mas a lei disciplinadora nunca veio. Aliás, a LRF não impediria a constituição de um fundo de resolução público, visto que se trata de mecanismo destinado a atuar após a materialização dos riscos, e não preventivamente.
O risco da proposta seria a exposição do fundo de resolução à instabilidade das instituições nacionais, na forma de aparelhamento político pelo Poder Executivo; pressão do Legislativo para utilizar os recursos para outras finalidades – como congressistas chegaram a propor na época das enchentes no Rio Grande Sul – ou para rever suas decisões por meio do Tribunal de Contas da União; e expansionismo do Judiciário, à frente o Supremo Tribunal Federal, conjugado com a redução da sua percepção de imparcialidade. O antídoto seria a construção de um regime legal de autonomia adequado, espelhado nas melhores práticas internacionais.
Solução intermediária seria manter o fundo de resolução sob gestão do FGC, mas eliminar a assistência financeira a bancos em operação. O FGC financiaria apenas as medidas de resolução decretadas pelo Banco Central, como a transferência de controle, a venda de ativos de qualidade e de depósitos a outro banco, ou a venda de ativos de baixa qualidade a veículos especiais. Esta alternativa reduziria o escopo das funções públicas e da discricionariedade do FGC, amenizando a tensão decorrente da sua natureza privada.
A solução menos satisfatória, mas ainda superior à situação atual, seria permitir que o FGC continuasse a prestar open-bank assistance, porém sob condições semelhantes às vigentes nos Estados Unidos: a regra de menor custo, a exceção de risco sistêmico e a aferição da competência e idoneidade da gestão bancária. Como o FGC carece de poderes de supervisão, caberia ao Banco Central avaliar o cumprimento dessas condições, de forma vinculante.
A estabilidade do sistema financeiro é um bem público por excelência. As decisões que a afetam devem ser tomadas por instituições públicas, sujeitas ao escrutínio democrático e segundo critérios publicamente definidos. O Banco Master é um lembrete de que nem sempre o Estado pode ser substituído.
(*) Jefferson Alvares é procurador do Banco Central. Foi advogado do Fundo Monetário Internacional e membro do secretariado do FSB. Escreve em caráter pessoal.