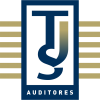https://valor.globo.com/financas/coluna – 30/10/2025
Por Fernando Torres (*)
Quantos analistas e investidores vão além do press release e leem a nota explicativa?
Tive um professor no mestrado em contabilidade que costumava dizer que, diante do processo de adoção das normas internacionais do IFRS, que enfatiza os princípios sobre as regras, e que procura trazer o conceito de “valor justo” para o balanço, existiam apenas três coisas realmente objetivas quando um balanço era publicado: a data, o nome do contador e o saldo do caixa.
Era uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Afinal, até itens que alguns supõem que tenham valores absolutos, como estoques, recebíveis ou ativos imobilizados estariam sujeitos a premissas, estimativas e ajustes.
Mas talvez o próprio “saldo do caixa” possa agora ser colocado em dúvida. Para ser mais preciso, não o valor do caixa em si, mas aquele que aparece na linha de “aplicações financeiras” e que é (ou ao menos era) amplamente tratado como caixa por investidores e analistas.
Para lembrar quem não é da área, o plano de contas dos ativos de um balanço no Brasil começa com a linha “caixa e equivalentes de caixa” e é seguido pela linha de “aplicações financeiras”.
Talvez por uma interpretação rigorosa da norma, as empresas no Brasil têm classificado como “aplicações financeiras”, e não na linha de caixa, os investimentos que têm prazo de vencimento acima de 90 dias, mesmo que com facilidade de resgate muito grande. Num exemplo, uma aplicação em título público com vencimento anos no futuro não é considerada caixa, mesmo que tenha liquidez imediata. A mesma coisa ocorre com a aplicação em CDBs com liquidez diária, mas prazo de vencimento mais longo, ou com alguns fundos de investimentos, ainda que o lastro seja de títulos públicos e as cotas possam ser resgatadas imediatamente.
Uma consequência dessa interpretação é que a linha de aplicações financeiras possui uma relevância enorme para ser ignorada quando se quer olhar o caixa da empresa. Entre as principais empresas brasileiras, a maior parte do dinheiro disponível está debaixo do termo “aplicações financeiras”, algumas numa subconta dentro do conceito de “equivalente de caixa”, e outras do lado de fora.
Isso faz com que, na prática, investidores, analistas e plataformas que divulgam indicadores financeiros das empresas tratem todas essas linhas como uma coisa só quando se olha o endividamento líquido. Assim, a dívida líquida é calculada se deduzindo da dívida bruta tanto a linha de “caixa e equivalentes” quanto a linha de “aplicações financeiras”.
Funciona para quase todos os casos e fazer de forma diferente talvez levasse a uma ideia equivocada sobre a situação financeira das empresas.
A questão é o lado contrário.
Isso porque na linha de aplicações financeiras entram esses investimentos de alta liquidez e superconservadores, que na prática são caixa, mas também outros valores aplicados em fundos de investimento que não necessariamente têm essa mesma característica.
Alguns anos atrás houve o caso de uma controlada da Copel, a Uega, que tinha dinheiro em um fundo multimercado em tese com liquidez, mas que na realidade investia em outros fundos e que, na prática, era dono de uma SPE do setor imobiliário que certamente não passaria no crivo para ser tratado como caixa. Mas o valor estava na linha de aplicações financeiras e foi entendido como disponível não só por investidores externos mas também pela própria diretoria da Copel, que, quando via o balanço da controlada, entendia que se tratava de um investimento líquido, o que não era verdade.
No caso mais recente, muitos investidores foram surpreendidos com problemas financeiros da Ambipar. Eles achavam que uma empresa que tinha R$ 4,6 bilhões em caixa não teria falta de liquidez. Mas descobriram que, na realidade, R$ 2 bilhões estavam num FIDC “com liquidez entre 30 e 60 dias”. Aparentemente, esses valores não estão tão livres para resgate.
Diferentemente da Uega, a Ambipar já dizia isso na nota explicativa. Mas quantos analistas e investidores leem a nota explicativa?
Um outro caso que revela o problema (ou ingenuidade) de se basear apenas nas informações de press releases da área de RI ocorreu no caso da Americanas. Para além da fraude em si, que realmente ninguém de fora tinha como saber, a empresa divulgava uma visão gerencial do seu endividamento líquido que considerava como caixa não apenas a linha de aplicações financeiras como também os recebíveis de cartão de crédito que ela poderia antecipar (e os analistas acreditavam!)
E o que ficou claro é que, na hora do estresse, a empresa não tem acesso a esses recebíveis, porque eles estão de alguma forma vinculados aos mesmos credores que acabam por limitar o acesso a esses recursos.
Nessa relação entra ainda outro fator. Quanto do dinheiro que as empresas dizem ter em caixa – e aí me refiro ao que aparece como de alta liquidez mesmo – está de certa forma aplicado em CDBs e outros produtos dos mesmos credores que concorrerão pelos recursos da empresa na hipótese de uma recuperação judicial? Se há uma contrapartida formal de que parte do empréstimo concedido deve ser aplicado no próprio banco, em que medida esse dinheiro está de fato livre?
O problema acima teria que ser tratado pelos auditores. Mas os casos dos investimentos em fundos que não sejam conservadores e líquidos e tratados como “caixa” deveriam acender a luz amarela. CDBs sem liquidez e de banco menor também podem trazer surpresa.
(*) Fernando Torres é editor-executivo do Valor
E-mail: fernando.torres@valor.com.br