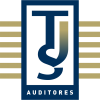https://valorinveste.globo.com/blogs – 26/06/2025
Por Claudio de Moraes (*)
Se continuarmos presos a um sistema que recompensa a astúcia predatória e pune a boa-fé, a lógica seguirá inalterada: todo dia sairão de casa um ingênuo e um sagaz — e, se nada mudar, a conta continuará recaindo sobre todos nós.
No universo financeiro, uma máxima cínica é frequentemente repetida: “Todo dia saem de casa um otário e um esperto — e eles se encontram para fazer negócio.” Mais do que folclore de mercado, essa frase encapsula uma mentalidade enraizada: a de que o sucesso pertence ao oportunista, enquanto o prejuízo recai sobre o desatento. Quando essa lógica se naturaliza, transcende negociações pontuais e começa a moldar moralmente a sociedade, desincentivando a cooperação e premiando comportamentos predatórios.
O setor financeiro, com sua capacidade de influenciar normas e valores sociais, torna-se um terreno fértil para essa distorção. Forma-se, assim, uma estética da “sagacidade” — não baseada em inteligência de longo prazo ou consistência de resultados sustentáveis, mas em ganhos imediatos e atitudes oportunistas.
Como me lembrou certa vez José Valentim, colega do Banco Central, acabamos presos em um dilema do prisioneiro — aquele clássico da teoria dos jogos em que, mesmo sendo do interesse coletivo que todos cooperem, os incentivos individuais levam à traição mútua. Nesse jogo, o resultado final é pior para todos.
No âmbito financeiro e social, o dilema se manifesta de forma clara: os agentes econômicos podem escolher cooperar (agir com responsabilidade, ética e visão de longo prazo) ou explorar o sistema (assumindo riscos excessivos, omitindo informações, abusando de falhas regulatórias). Do outro lado, a sociedade — representada por reguladores, consumidores e opinião pública — também pode optar entre vigilância ativa ou tolerância passiva.
Quando todos cooperam, o sistema funciona: há confiança, estabilidade e ganhos sustentáveis. Quando ninguém coopera, o que prevalece é a instabilidade, o oportunismo e a perda generalizada — um típico cenário de perde-perde.
Essa lógica pode ser representada por uma matriz estratégica simples. Quando há cooperação mútua, todos ganham: o sistema é eficiente, os custos caem e a confiança aumenta. Quando uma parte age com oportunismo e a outra é complacente, os lucros se concentram no curto prazo — mas os custos se disseminam no longo. Quando ambas não cooperam, instala-se o pior cenário: lucros privados momentâneos à custa de um colapso coletivo.
Se essa disfunção se restringisse ao sistema financeiro, o estrago já seria considerável. Mas sociedades que não recompensam a ética tendem a amplificar os efeitos desse desequilíbrio: pequenos abusos tornam-se aceitáveis e a corrupção se naturaliza. O que começa como sagacidade termina como norma social.
Romper esse ciclo exige a construção de uma cultura de cooperação. E cultura se constrói com estímulos. Como bem demonstrou Ivan Pavlov em sua clássica experiência, estímulos moldam comportamentos. Assim como cães foram condicionados a salivar com o som do sino, pessoas moldam decisões com base em experiências passadas. Quando líderes políticos e empresariais dão o exemplo — sendo recompensados por agir com responsabilidade e punidos quando abusam da confiança — o sistema aprende, se ajusta e começa a funcionar com mais equilíbrio.
É nesse sentido que se insere o estudo de Baselga-Pascual, Trujillo-Ponce e dos professores das universidades finlandesas de Hanken, Emilia Vähämaa, e de Vaasa, Sami Vähämaa, intitulado Ethical Reputation of Financial Institutions: Do Board Characteristics Matter?
Os autores investigam como características internas de governança afetam a reputação ética de instituições financeiras. Concluem que conselhos maiores, mais diversos e menos sobrecarregados tendem a gerar melhor reputação — provavelmente por fortalecerem a supervisão e o compromisso com condutas éticas.
Curiosamente, a acumulação de funções pelo CEO (também como presidente do conselho) pode estar associada a reputações melhores, talvez por favorecer uma atuação mais coesa e ágil. Por outro lado, conselhos que se reúnem excessivamente — sinal frequente de crise ou má gestão — tendem a apresentar reputações mais frágeis.
Essa evidência reforça a ideia de que, além de bons exemplos, estruturas institucionais de governança são fundamentais para um ambiente ético. Elas têm o potencial de reverter incentivos distorcidos e contribuir para um sistema financeiro mais confiável e sustentável.
No fim das contas, seja no microcosmo da vida privada ou no macrocosmo dos mercados, precisamos superar a negligência institucionalizada. Se continuarmos presos a um sistema que recompensa a astúcia predatória e pune a boa-fé, a lógica seguirá inalterada: todo dia sairão de casa um ingênuo e um sagaz — e, se nada mudar, a conta continuará recaindo sobre todos nós.
(*) Professor e Pesquisador do Coppead, especialista em Banking, com artigos publicados em diversos periódicos internacionais. Atua no Banco Central do Brasil na área de estabilidade financeira, com experiência em regulação e supervisão bancária.
* A opinião do autor e não representa necessariamente a do Banco Central do Brasil
 Claudio de Moraes — Foto: Arte sobre foto de Divulgação
Claudio de Moraes — Foto: Arte sobre foto de Divulgação